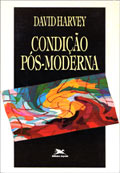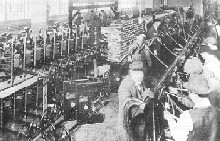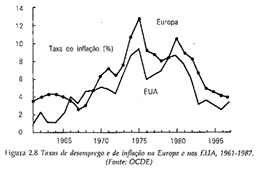|
|
O autor inicia seu artigo questionando
como os usos e significados do espaço e do tempo mudaram
com a transição do fordismo
para a acumulação
flexível. Sugere que temos vivido
nas duas últimas décadas (observação:
o texto é de 1989) uma intensa fase de compressão
do tempo-espaço, geradora de um grande
impacto nas práticas político-econômicas, no
equilíbrio do poder de classe e na vida social e cultural.
Também observa a volta do interesse pela teoria geopolítica
a partir de mais ou menos 1970, o retorno da estética do
lugar e uma propensão revigorada (mesmo na teoria social)
a abrir o problema da espacialidade a uma reconsideração
geral.
A transição para a acumulação flexível
trouxe novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas.
A aplicação das novas tecnologias contribuiu muito
na superação da rigidez
do fordismo e na aceleração
do tempo de giro, desde a crise aberta em
1973. A aceleração na produção foi alcançada
por mudanças organizacionais tais como subcontratação,
transferência de sede etc., que reverteram a tendência
fordista de integração vertical, produzindo um caminho
cada vez mais indireto na produção, mesmo diante da
crescente centralização financeira. Outras mudanças
como o sistema de entrega "just-in-time", que reduz os
estoques, associado a produção em pequenos lotes,
diminuiram os tempos de giro em muitos setores da produção
(eletrônica, máquinas-ferramenta, automóveis,
construção, vestuário etc.). Para os trabalhadores,
tudo isso implicou uma intensificação dos processos
de trabalho e uma aceleração na desqualificação
e requalificação necessárias ao atendimento
de novas necessidades de trabalho.
A aceleração do tempo de giro na produção
envolve acelerações paralelas na troca e no consumo.
Sistemas aperfeiçoados de comunicação e de
fluxo de informações, associados com racionalizações
nas técnicas de distribuição, possibilitaram
a circulação de mercadorias no mercado a uma velocidade
maior. Os bancos eletrônicos e o dinheiro de plástico
foram algumas das inovações que aumentaram a rapidez
do fluxo de dinheiro inverso. Serviços e mercados financeiros
também foram acelerados.
Na arena do consumo, dois fatores têm particular importância.
A mobilização da moda em mercados de massa (em oposição
a mercados de elite) fornecendo um meio de acelerar o ritmo do consumo
não somente em termos de roupas, ornamentos e decoração,
mas também influindo em estilos de vida e atividades de recreação
(hábitos de lazer e de esporte, estilos de música
pop, videocassetes e jogos infantis etc.) e a passagem do consumo
de bens para o consumo de serviços - não apenas serviços
pessoais, comerciais, educacionais e de saúde, como também
de diversão, de espetáculos, eventos e distrações.
O "tempo de vida" desses serviços é bem
menor do que o de um automóvel ou de uma máquina de
lavar. Como há limites para a acumulação e
para o giro de bens físicos, faz sentido que os capitalistas
se voltem para o fornecimento de serviços bastante efêmeros
em termos de consumo.
Uma conseqüência importante dessa aceleração
generalizada dos tempos de giro do capital foi acentuar a volatilidade
e efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção,
processos de trabalho, idéias e ideologias, valores e práticas
estabelecidas.
No domínio da produção de mercadorias, o efeito
primário foi a ênfase nos valores e virtudes da instantaneidade
(alimentos e refeições instantâneos e rápidos
e outras comodidades) e da descartabilidade (xícaras, pratos,
talheres, embalagens, guardanapos, roupas etc.). A dinâmica
de uma sociedade
"do descarte", como a apelidaram
escritores como Alvin
Toffler (1970), começou a ficar evidente
durante os anos 60. Ela significa mais do que jogar fora bens produzidos
(criando um monumental problema sobre o que fazer com o lixo); significa
também ser capaz de atirar fora valores, estilos de vida,
relacionamentos estáveis, apego a coisas, edifícios,
lugares, pessoas e modos adquiridos de agir e ser.
Por intermédio desses mecanismos as pessoas foram forçadas
a lidar com a descartabilidade, a novidade e as perspectivas de
obsolescência instantânea, fornecendo um contexto para
a "quebra do consenso" e para a diversificação
de valores numa sociedade em vias de fragmentação.
As respostas psicológicas identificadas por Simmel
em relação aos problemas da vida urbana modernista
na virada do século - o bloqueio dos estímulos sensoriais,
a negação e o cultivo da atitude blasée, a
especialização míope, a reversão a imagens
de um passado perdido (daí decorrendo a importância
de memoriais, museus, ruínas) e a excessiva simplificação
(na apresentação de si mesmo ou na interpretação
dos eventos) se enquadram de certa forma no período que vivemos.
Toffler, num momento bem ulterior da compressão do tempo-espaço,
faz eco ao pensamento de Simmel, cujas idéias foram moldadas
num período de trauma semelhante há mais de setenta
anos.
A volatilidade torna extremamente difícil qualquer planejamento
de longo prazo, gerando ou uma alta adaptação e capacidade
de se movimentar com rapidez em resposta a mudanças de mercado,
ou o planejamento da volatilidade. A primeira estratégia,
bastante utilizada pela administração norte-americana
nos últimos anos, aponta para o planejamento de curto prazo
e para a obtenção de ganhos imediatos sempre que possível.
O mandato médio dos dirigentes das empresas caiu para cinco
anos, e empresas nominalmente envolvidas na produção
com freqüência buscam ganhos de curto prazo por meio
de fusões, aquisições ou operações
em mercados financeiros e de moedas. É considerável
a tensão do desempenho gerencial num tal ambiente, gerando
todo tipo de efeito colateral, próxima da espécie
de mentalidade esquizofrênica que Jameson
descreve.
Dominar ou intervir ativamente na produção da volatilidade
envolvem, por outro lado, a manipulação do gosto e
da opinião, seja tornando-se um líder da moda ou saturando
o mercado com imagens que adaptem a volatilidade a fins particulares.
Isso significa, em ambos os casos, construir novos sistemas de signos
e imagens, um aspecto importante da condição pós-moderna,
que precisa ser considerado de vários ângulos distintos.
Para começar, a publicidade e as imagens da mídia
passaram a ter um papel muito mais integrador nas práticas
culturais, tendo assumido agora uma importância muito maior
na dinâmica de crescimento do capitalismo, voltando-se cada
vez mais para a manipulação dos desejos e gostos mediante
imagens que podem ou não ter relação com o
produto a ser vendido.
As imagens se tomaram, em certo sentido, mercadorias. Esse fenômeno
levou Baudrillard
(1981) a alegar que a análise
marxiana da produção de mercadorias
está ultrapassada, porque o capitalismo agora tem preocupação
predominante com a produção de signos, imagens e sistemas
de signos, e não com as próprias mercadorias. Do mesmo
modo, muitas imagens podem ser vendidas em massa instantaneamente
no espaço. A efemeridade e a comunicabilidade instantânea
no espaço tornam-se virtudes a ser exploradas e apropriadas
pelos capitalistas para os seus próprios fins.
Mas as imagens têm de desempenhar outras funções.
Tanto as corporações como os governos e os líderes
intelectuais e políticos valorizam uma imagem estável
(embora dinâmica) como parte de sua aura de autoridade e poder.
A mediatização da política passou a permear
tudo. A produção e venda dessas imagens de permanência
e de poder requerem uma sofisticação considerável,
porque é preciso conservar a continuidade e a estabilidade
da imagem enquanto se acentuam a adaptabilidade, a flexibilidade
e o dinamismo do objeto, material ou humano, da imagem. Além
disso, a imagem se torna importantíssima na concorrência,
não somente em torno do reconhecimento da marca, como em
termos de diversas associações com esta - "respeitabilidade",
"qualidade", "prestígio", "confiabilidade"
e "inovação".
A competição no mercado da construção
de imagens passa a ser um aspecto vital da concorrência entre
as empresas. O sucesso é tão claramente lucrativo
que o investimento na construção da imagem (patrocínio
das artes, exposições, produções televisivas
e novos prédios, bem como marketing direto) se torna tão
importante quanto o investimento em novas fábricas e maquinário.
A aquisição de uma imagem (por meio da compra de um
sistema de signos como roupas de griffe e o carro da moda) se torna
um elemento singularmente importante na auto-apresentação
nos mercados de trabalho e, por extensão, passa a ser parte
integrante da busca de identidade individual, auto-realização
e significado na vida. Consultorias de imagem pessoal viraram um
grande negócio na cidade de Nova Iorque, através de
cursos de empresas com lemas como "As pessoas formam uma idéia
de você, hoje em dia, em um décimo de segundo"
ou "Você deve fingir até conseguir".
É claro que símbolos de riqueza, de posição,
de fama e de poder, assim como de classe, sempre tiveram importância
na sociedade burguesa, mas é provável que nunca tanta
quanto hoje.
Os materiais de produção e reprodução
dessas imagens, quando estas não estão disponíveis,
tomaram-se eles mesmos o foco da inovação - quanto
melhor a réplica da imagem, tanto maior o mercado de massas
da construção da imagem pode tornar-se. Isso constitui
por si só uma questão importante, levando-nos de modo
mais explícito a considerar o papel do "simulacro"
no pós-modernismo. Por "simulacro" designa-se umestado
de réplica tão próxima da perfeição
que a diferença entre o original e a cópia é
quase impossível de ser percebida. Com as técnicas
modernas, a produção de imagens como simulacros é
relativamente fácil. Na medida em que a identidade depende
cada vez mais de imagens, as réplicas seriais e repetitivas
de identidade (individuais, corporativas, institucionais e políticas)
passam a ser uma possibilidade e um problema bem reais.
Mas há muitos domínios mais tangíveis em que
o simulacro tem papel significativo. Com os modernos materiais de
construção, é possível reproduzir prédios
antigos com uma exatidão que toma duvidosas a autenticidade
ou a origem. A fabricação de antiguidades e de outros
objetos de arte é totalmente possível, tornando a
fraude sofisticada um sério problema no negócio das
coleções de arte. Por conseguinte, possuímos
não apenas a capacidade de empilhar imagens do passado ou
de outros lugares de modo eclético e simultâneo na
tela da televisão, como até de transformar essas imagens
em simulacros materiais na forma de ambientes, eventos e espetáculos
etc. construídos que se tornam, em muitos aspectos, indistinguíveis
dos originais.
A organização e as condições de trabalho
vigentes naquilo que podemos designar de maneira ampla como "indústria
da produção de imagens" também são
deveras especiais. O aumento da produção cultural
foi de fato fenomenal, tanto no crescimento do número de
artistas quanto na enorme quantidade de obras de arte criadas. Quanto
a isto, Daniel
Bell (1978, 20) acrescenta o que chama de
"a massa cultural"
Toda essa indústria se especializa na aceleração
do tempo de giro por meio da produção e venda de imagens.
Trata-se de uma indústria em que reputações
são feitas e perdidas da noite para o dia, onde o grande
capital fala sem rodeios e onde há um fermento de criatividade
intensa, organizando as manias e modas, produzindo a própria
efemeridade que sempre foi fundamental para a experiência
da modernidade.
Podemos vincular a dimensão esquizofrênica da pós-modernidade
que Jameson destaca com acelerações dos tempos
de giro na produção, na troca
e no consumo, que produzem, por assim dizer, a perda de um sentido
do futuro, exceto e na medida em que o futuro possa ser descontado
do presente. A volatilidade e a efemeridade também tornam
difícil manter qualquer sentido firme de continuidade.
Baudrillard (1986), considera os Estados
Unidos uma sociedade tão entregue à velocidade, ao
movimento, às imagens cinematográficas e aos reparos
tecnológicos que gerou uma crise de lógica explicativa.
Eles representam, ao seu ver, "o triunfo do efeito sobre a
causa, da instantaneidade sobre a profundidade do tempo, o triunfo
da superfície e da pura objetificação sobre
a profundidade do desejo". Esse é, com efeito, o tipo
de ambiente em que o desconstrucionismo
pode florescer. Nessa circunstância, o contrato temporário
inerente a tudo se torna, como observa Lyotard,
a marca da vida pós-moderna.
Surgem também questões mais profundas de significado
e interpretação. Quanto maior a efemeridade/ tanto
maior a necessidade de descobrir ou produzir algum tipo de verdade
eterna que nela possa residir. O revivalismo religioso, que se tornou
muito mais forte a partir do final dos anos 60, e a busca de autenticidade
de autoridade na política são casos pertinentes. O
retorno do interesse por instituições básicas
(como a família e a comunidade) e a busca
de raízes históricas são
indícios da procura de hábitos mais seguros e valores
mais duradouros num mundo cambiante. Fotografias, objetos específicos
(como um piano, um relógio, uma cadeira) e eventos particulares"
(uma certa canção tocada ou cantada) se tornam o foco
de uma lembrança contemplativa e, portanto, um gerador de
um sentido do eu que está além da sobrecarga
sensorial da cultura e da moda consumista. A casa se torna um museu
privado que protege do furor da compressão do tempo-espaço.
Além disso, ao mesmo tempo em que o pós-modernismo
proclama a "morte do autor" e a ascensão da arte
anti-áurica no domínio público,
o mercado da arte se torna cada vez mais consciente do poder monopolista
da assinatura do artista e de questões de autenticidade e
fraude.
Não foram menos traumáticos os ajustes espaciais.
Os sistemas de comunicação por satélite implantados
a partir do início da década de 70 tornaram o custo
unitário e o tempo da comunicação invariantes
com relação à distância. Custa o mesmo
a comunicação com uma distância de 800 quilômetros
e de 8.000 via satélite. As taxas de frete aéreo de
mercadorias também caíram dramaticamente, enquanto
a conteinerização reduziu o custo do transporte rodoviário
e marítimo pesado. A televisão de massa associada
com a comunicação por satélite possibilita
a experiência de uma enorme gama de imagens vindas de espaços
distintos quase simultaneamente, encolhendo os espaços do
mundo numa série de imagens de uma tela de televisão,
enquanto o turismo em massa, filmes feitos em locações
espetaculares tornam uma ampla gama de experiências simuladas
ou vicárias daquilo que o mundo contém acessível
a muitas pessoas. A imagem de lugares e espaços se torna
tão aberta à produção e ao uso efêmero
quanto qualquer outra.
Em suma, testemunhamos outra difícil rodada do processo de
aniquilação
do espaço por meio do tempo que sempre
esteve no centro da dinâmica capitalista.
Mas a queda de barreiras espaciais não implica o decréscimo
da significação do espaço. O aumento da competição
em condições de crise coagiu os capitalistas a darem
muito mais atenção às vantagens localizacionais
relativas, precisamente porque a diminuição de barreiras
espaciais dá aos capitalistas o poder de explorar, com bom
proveito, minúsculas diferenciações espaciais.
Pequenas diferenças naquilo que o espaço contém
em termos de oferta de trabalho, recursos, infra-estruturas etc.
assumem crescente importância. A mobilidade geográfica
e a descentralização são usadas contra um poder
sindical que se concentrava tradicionalmente nas fábricas
de produção em massa. A fuga de capitais, a desindustrialização
de algumas regiões e a industrialização de
outras e a destruição de comunidades operárias
tradicionais como bases de poder na luta de classes se tornam o
pivô na transformação espacial sob condições
de acumulação mais flexíveis.
Embora o controle do trabalho sempre seja central, há muitos
outros aspectos de organização geográfica que
assumiram uma nova proeminência sob condições
de acumulação mais flexível. A necessidade
de informações precisas e comunicações
rápidas enfatizou o papel das chamadas "cidades mundiais"
no sistema financeiro e corporativo (centros equipados com teleportos,
aeroportos, ligações de comunicação
fixas, bem como com um amplo conjunto de serviços financeiros,
legais, comerciais e infra-estruturais). A diminuição
de barreiras espaciais resulta na reafirmação e realinhamento
hierárquicos no interior do que é hoje um sistema
urbano global. A disponibilidade local de recursos materiais de
qualidades especiais, ou mesmo a custos marginalmente inferiores,
começa a assumir crescente importância, o mesmo ocorrendo
com variações locais de gosto do mercado, hoje exploradas
com mais facilidade em condições de produção
em pequenos lotes e de flexibilidade de apresentação.
As diferenças locais de capacidade de empreendimento, capital
para associações, conhecimento técnico e científico
e de atitudes sociais também contam, enquanto as redes locais
de influência e de poder e as estratégias de acumulação
das elites dirigentes locais (em oposição às
políticas da nação-Estado) também se
tornam implicadas de maneira mais profunda no regime de acumulação
flexível.
Se
os capitalistas se tornam cada vez mais sensíveis às
qualidades espacialmente diferenciadas de que se compõe a
geografia do mundo, é possível que as pessoas e forças
que dominam esses espaços os alterem de um modo que os torne
mais atraentes para o capital altamente móvel.
O paradoxo central da questão é: quanto menos importantes
as barreiras espaciais, tanto maior a sensibilidade do capital às
variações do lugar dentro do espaço e tanto
maior o incentivo para que os lugares se diferenciem de maneiras
atrativas ao capital. O resultado tem sido a produção
da fragmentação/ da insegurança e do desenvolvimento
desigual efêmero no interior de uma economia de fluxos de
capital de espaço global altamente unificado. A tensão
histórica dentro do capitalismo entre centralização
e descentralização tem sido trabalhada agora de novas
maneiras. A extraordinária descentralização
e proliferação da produção industrial
termina por expor produtos Benetton ou Laura Ashley em quase todos
os shoppings serialmente produzidos do mundo capitalista avançado.
A geografia da desvalorização por meio da desindustrialização,
do aumento do desemprego local, da redução fiscal,
do cancelamento de ativos locais ou coisa parecida é de fato
um quadro lamentável. Mas podemos ao menos ver a sua lógica
no âmbito da busca de uma solução para o problema
da superacumulação mediante o impulso para sistemas
flexíveis e mais móveis de acumulação.
Há, porém, razões a priori para suspeitar (bem
como algumas provas materiais para sustentar a idéia) de
que regiões de agitação e fragmentação
máximas também são regiões que parecem
melhor preparadas para sobreviver aos traumas da desvalorização
no longo prazo. Há mais do que um indício de que uma
pequena desvalorização agora é melhor do que
uma desvalorização generalizada mais tarde.
Nenhuma dessas mudanças na experiência do espaço
e do tempo faria o sentido que faz ou teria o impacto que tem sem
uma modificação radical da maneira como o valor é
representado como moeda. Embora domine há muito tempo, a
moeda nunca foi uma representação clara ou patente
do valor e, em certas ocasiões, se torna tão confusa
que vem a constituir ela mesma uma fonte importante de insegurança
e incerteza.
A questão de saber como o valor deve ser representado agora,
que forma a moeda deve assumir e que sentido pode ser atribuído
às várias formas de meios de pagamento disponíveis
nunca esteve longe da superfície de preocupações
recentes. A partir de 1973, a moeda se "desmaterializou",
isto é, ela já não tem um vínculo formal
ou tangível com metais preciosos (embora estes tenham continuado
a desempenhar um papel de forma potencial de dinheiro entre muitas
outras) ou, quanto a isso, com qualquer outra mercadoria tangível.
Do mesmo modo, ela não se apóia exclusivamente na
atividade produtiva dentro de um espaço
particular. Pela primeira vez na história, o mundo passou
a se apoiar em formas imateriais de dinheiro — isto é,
dinheiro registrado avaliado quantitativamente em números
de alguma unidade monetária designada (dólares, ienes,
marcos alemães, libras esterlinas etc.).
As taxas de câmbio entre as diferentes unidades monetárias
do mundo também têm sido extremamente voláteis.
Fortunas podem ser perdidas ou feitas apenas por se ter a unidade
monetária correta nas fases certas. A questão de qual
moeda mantenho comigo tem uma ligação direta com o
lugar em que confio. Isso pode ter alguma relação
com a posição econômica competitiva e o poder
de diferentes sistemas nacionais. Esse poder, levando-se em conta
a flexibilidade da acumulação no espaço, é
ele mesmo uma magnitude passível de mudar rapidamente. O
efeito disso é tornar os espaços que fundamentam a
determinação do valor tão instáveis
quanto o próprio valor. A desvinculação entre
o sistema financeiro e a produção ativa e a base monetária
material põe em questão a confiabilidade do mecanismo
básico mediante o qual se supõe que o valor seja representado.
Essas dificuldades têm estado presentes de maneira mais forte
no processo de desvalorização da moeda, a medida do
valor, devido à inflação. As taxas de inflação
equilibradas da era fordista-keynesiana
(em geral na faixa de 3 e raramente acima de 5) foram perturbadas
a partir de 1969, acelerando-se em todos os grandes países
capitalistas no decorrer
dos anos 70, onde alcançaram números
de dois dígitos. Em conseqüência, o dinheiro se
tornou inútil como meio de armazenamento de valor por qualquer
período de tempo (a taxa real de juros, medida como a taxa
monetária de juros menos a taxa de inflação,
foi negativa por vários anos na década de 70, privando
os poupadores do valor que pretendiam preservar).
Era necessário descobrir meios alternativos para proteger
o valor de maneira eficaz. Assim, começou a vasta inflação
de certos tipos de ativos reais — contas a receber, objetos
de arte, antiguidades, imóveis etc. Comprar um Degas ou um
Van Gogh em 1973 por certo superaria quase todo outro tipo de investimento
em termos de ganho de capital.
O colapso do dinheiro como meio seguro de representação
do valor criou por si só uma crise de representação
no capitalismo avançado. Ele também foi reforçado,
ao mesmo tempo em que lhes acrescentou seu peso considerável,
pelos problemas de compressão do espaço-tempo antes
identificados. A rapidez com que os mercados de moedas flutuam nos
espaços do mundo, o extraordinário poder do fluxo
de capital-dinheiro no que é agora um mercado financeiro
e de ações global e a volatilidade daquilo que o poder
de compra do dinheiro poderia representar definem, por assim dizer,
um ponto alto da intersecção extremamente problemática
do dinheiro, do tempo e do espaço como elementos entrelaçados
de poder social na economia política da pós-modernidade.
Além disso, não é difícil perceber que
tudo isso pode criar uma crise mais geral de representação.
O sistema central de valor, a que o capitalismo sempre recorreu
para validar e avaliar suas ações, está desmaterializado
e inconstante, e os horizontes temporais estão ruindo, sendo
difícil dizer exatamente em que espaço nos encontramos
quando se trata de avaliar causas e efeitos, significados ou valores.
A intrigante exibição do Centro Pompidou, em 1985,
sobre "O
Imaterial" (uma exposição
em que ninguém menos que Lyotard agiu como um dos consultores),
foi talvez uma imagem especular da dissolução das
representações materiais do valor em condições
de acumulação mais flexível, bem como das confusões
relativas ao que poderia significar dizer, com Paul
Virilio, que o tempo e o espaço desapareceram
como dimensões significativas do pensamento e da ação
humanos.
Há, admito, formas mais tangíveis e materiais do que
essa para avaliar a significação do espaço
e do tempo para a condição da pós-modernidade.
Por exemplo, seria possível considerar de que modo a experiência
em mutação do espaço, do tempo e do dinheiro
compôs uma base material distinta para a ascensão de
sistemas distintos de interpretação e de representação,
assim como abriu um caminho mediante o qual a estetização
da política poderia reafirmar-se uma vez mais. Se vemos a
cultura como um complexo de signos e significações
(incluindo a linguagem) que origina códigos de transmissão
de valores e significados sociais, podemos ao menos iniciar a tarefa
de desvelar suas complexidades nas condições atuais
mediante o reconhecimento de que o dinheiro e as mercadorias são
eles mesmos os portadores primários de códigos culturais.
Como o dinheiro e as mercadorias dependem inteiramente da circulação
do capital, segue-se que as formas culturais têm firmes raízes
no processo diário de circulação do capital.
A aniquilação do espaço por meio do tempo modificou
de modo radical o conjunto de mercadorias que entra na reprodução
diária. Inúmeros sistemas locais de alimentação
foram reorganizados por intermédio de sua incorporação
à troca global de mercadorias.
Esse mesmo fenômeno é explorado em palácios
da diversão como Epcot e Disneyworld; torna-se possível,
como dizem os comerciais americanos, “viver o Velho Mundo
por um dia ser ter de estar lá de fato’”. A implicação
geral é de que, por meio da experiência de tudo –
comida, hábitos culinários, música, televisão,
espetáculos e cinema -, hoje é possível vivenciar
a geografia do mundo vicariamente, como
um simulacro. O entrelaçamento de simulacros da vida diária
reúne no mesmo espaço e no mesmo tempo diferentes
mundos (de mercadorias). Mas ele o faz de tal modo que oculta de
maneira quase perfeita quaisquer vestígios de origem, dos
processos de trabalhos que os produziram ou das relações
sociais implicadas em sua produção. O simulacro, por
sua vez, pode tomar-se a realidade. Baudrillard (1986) vai ainda
mais longe em América, um tanto exageradamente ao meu ver,
sugerindo que a realidade norte-americana é hoje construída
como uma tela gigantesca: "O cinema está em toda parte,
principalmente na cidade, filme e cenário incessantes e maravilhosos".
Lugares retratados de certa maneira, em particular se têm
a capacidade de atrair turistas, podem começar a "se
vestir" segundo as prescrições das imagens-fantasia.
Castelos medievais oferecem fins de semana medievais (comida e roupas,
mas não, é claro, os sistemas primitivos de aquecimento).
A participação vicária nesses vários
mundos tem efeitos reais nos modos como eles são ordenados
e Charles
Jencks (1984, 127) propõe que o arquiteto
seja um participante ativo nisso.
A débil coesão de culturas de rua divergentes nos
espaços fragmentados da cidade contemporânea reenfatiza
os aspectos contingentes e acidentais dessa "alteridade"
na vida cotidiana. Essa mesma sensibilidade está presente
na ficção pós-moderna. Ela se preocupa, diz
McHale
(1987), com "ontologias", com uma pluralidade potencial
e real de universos, formando uma eclética e "anárquica
paisagem de mundos no plural". Personagens confusas e distraídas
vagueiam por esses mundos sem um claro sentido de localização,
imaginando: "Em que mundo estou e qual das minhas personalidades
exibo?" A nossa paisagem ontológica pós-moderna,
sugere McHale, "não tem precedentes na história
humana — ao menos no grau de seu pluralismo”. Espaços
de universo bem diferentes parecem decair uns nos outros, mais ou
menos da mesma forma como as mercadorias do mundo são agregadas
no supermercado e como toda espécie de subcultura se justapõe
na cidade contemporânea. A espacialidade disruptiva triunfa
sobre a coerência da perspectiva e da narrativa na ficção
pós-moderna, exatamente da mesma forma como cervejas importadas
coexistem com as locais, o emprego local vem abaixo sob o peso da
competição estrangeira e todos os espaços divergentes
do mundo são montados toda noite como uma colagem de imagens
na tela da televisão.
Parece haver dois efeitos sociológicos divergentes disso
tudo no pensamento e na ação diários. O primeiro
sugere que se tire vantagem de todas as possibilidades divergentes,
mais ou menos como Jencks recomenda, cultivando-se toda uma série
de simulacros como espaços de escape, de fantasia e de distração.
A ficção pós-moderna mimetiza alguma coisa
(McHale), assim como a efemeridade, a colagem, a fragmentação
e a dispersão no pensamento filosófico e social mimetizam
as condições da acumulação flexível,
e tudo isso é compatível com a emergência, a
partir de 1970, de uma política fragmentada de grupos de
interesse regionais e especiais divergentes. A reação
oposta é a busca de uma identidade coletiva ou pessoal, a
procura de comportamentos seguros num mundo cambiante. A identidade
de lugar se torna uma questão importante nessa colagem de
imagens superpostas, porque cada um ocupa um espaço de individuação
(um corpo, um quarto, uma casa, uma comunidade plasmadora, uma nação)
e porque o modo como nos individuamos molda a identidade. O vínculo
potencial entre lugar e identidade social é reforçado
pela capacidade da maioria dos movimentos sociais, de dominar melhor
o lugar do que o espaço. Os conseqüentes dilemas dos
movimentos socialistas ou operários diante de um capitalismo
universalizante são compartilhados por outros grupos de oposição
— minorias raciais, povos colonizados, mulheres etc. —,
que são relativamente fortes em termos de organização
no lugar, mas frágeis no tocante à organização
no espaço. A identidade dependente do lugar torna os movimentos
de oposição presas da mesma fragmentação
que a acumulação flexível alimenta. A oposição
vinculada ao lugar não pode suportar sozinha a carga da mudança
histórica. Agora, como nos anos 60, podemos afirmar: "Pense
globalmente e aja localmente" . É difícil manter
qualquer sentido de continuidade histórica diante de todo
o fluxo e efemeridade da acumulação flexível.
A ironia é que a tradição é agora preservada
com freqüência ao ser mercadificada e comercializada
como tal. A busca de raízes termina sendo produzida e vendida
como imagem, como um simulacro ou pastiche. A fotografia, o documento,
a vista e a reprodução se tornam história exatamente
devido à sua presença avassaladora. A tradição
histórica é reorganizada como cultura de museu, do
modo como as coisas um dia foram feitas, vendidas, consumidas e
integradas numa vida cotidiana há muito perdida e com freqüência
romantizada. Por meio da apresentação de um passado
parcialmente ilusório, torna-se possível dar alguma
significação à identidade local, talvez com
algum lucro. O esforço de construção qualitativa
do lugar e dos seus significados é compatível com
a idéia de diferenciações espaciais como atrativos
para um capital que atribui enorme valor à mobilidade. A
construção de lugares para viver, consumir e sentir-se
seguro permite a construção de algum sentido limitado
e limitador de identidade no turbilhão de uma colagem de
espacialidades implosivas. A tensão presente na oposição
entre as duas situações acima descritas é bem
clara, mas é difícil apreciar suas ramificações
intelectuais e políticas. Harvey ilustra a questão
com um relato de Foucault sobre um estudo de que participara, junto
com arquitetos, em 1966, sobre heterotopias,
espaços singulares presentes em alguns espaços sociais
dados cujas funções são diferentes ou mesmo
opostas às de outros. A questão de prevalência
das dimensões do tempo e do espaço eram comparadas
em relação aos contextos político-sociais.
As imagens espaciais, liberadas de suas raízes tornam-se
um meio de descrever as forças da determinação
social. Jameson (1988, 351), por sua vez, vê as "peculiaridades
espaciais do pós-modernismo como sintomas e expressões
de um dilema novo e historicamente original, dilema que envolve
a nossa inserção como sujeitos individuais num conjunto
multidimensional de realidades radicalmente descontínuas,
cujas estruturas vão dos espaços ainda sobreviventes
da vida privada burguesa ao descentramento inimaginável do
próprio capitalismo global, incluindo tudo que há
entre eles. (...) ... esse processo se faz sentir pela chamada morte
do sujeito ou, mais exatamente, pelo descentramento e dispersão
esquizofrênicos e fragmentados deste último... esses
dilemas políticos urgentes são, todos eles, funções
imediatas do espaço internacional novo, extremamente complexo,
que tenho em mente."
A condição atual é
semelhante, em termos qualitativos, à que levou à
Renascença
e a várias reconceitualizações modernistas
do espaço e do tempo. Se perdemos a fé modernista
no vir-a-ser, haverá alguma saída afora a política
reacionária de uma espacialidade estetizada? Pior ainda,
se a produção estética se tornou hoje completamente
mercadificada, sendo por isso efetivamente submetida a uma economia
política de produção cultural, que possibilidades
temos de impedir que esse círculo se feche numa estetização
produzida, e, portanto, manipulada com demasiada facilidade, de
uma política globalmente mediatizada? Isso nos alerta para
os graves perigos geopolíticos associados nos últimos
anos à rapidez da compressão do tempo-espaço.
A transição do fordismo para a acumulação
flexível deveria implicar uma transição dos
nossos mapas mentais e das nossas atitudes e instituições
políticas. O pensamento político, contudo está
sujeito às pressões contraditórias que advêm
da integração e da diferenciação espaciais.
Há sinais abundantes de que o localismo e o nacionalismo
se tornaram mais fortes justamente por causa da busca da segurança
que o lugar sempre oferece em meio a todas as transformações
que a acumulação flexível implica. A ressurreição
da geopolítica e da fé na política carismática
(a Guerra das Falklands/Malvinas, de Thatcher; de Granada, de Reagan)
se enquadra bem num mundo que é nutrido cada vez mais por
um vasto fluxo de imagens efêmeras. A compressão do
tempo-espaço sempre altera nossa capacidade de lidar com
as realidades que se revelam à nossa volta. A realidade é
antes criada do que interpretada em condições de tensão
e de compressão do tempo-espaço. Os mercados financeiros
mundiais se encontram numa situação que torna um julgamento
apressado aqui, uma palavra impensada ali e uma reação
instintiva acolá a gota d'água que pode fazer vir
abaixo toda a estrutura da formação do capital fictício
e da interdependência. A intensidade da compressão
do tempo-espaço no capitalismo ocidental a partir dos anos
60, com todos os seus elementos congruentes de efemeridade e fragmentação
excessivas no domínio político e privado, bem como
social, parece de fato indicar um contexto experiencial que confere
à condição da pós-modernidade o caráter
de algo um tanto especial. Contudo, situando essa condição
em seu contexto histórico, como parte de uma história
de ondas sucessivas de compressão do tempo-espaço
geradas pelas pressões da acumulação do capital
— com seus perpétuos esforços de aniquilação
do espaço por meio do tempo e de redução do
tempo de giro —, podemos ao menos levá-la para o âmbito
de condição acessível à análise
e interpretação materialista histórica.
Bibliografia
|
aaa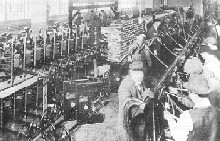
Segundo David Harvey, o ano “simbólico”
de início do fordismo foi 1914, quando Henry Ford introduziu,
na linha de montagem de sua indústria automobilística,
uma jornada de trabalho de oito horas e cinco dólares como
recompensa. Para Harvey, “o que havia de especial em Ford
era sua visão, seu reconhecimento explícito de que
produção de massa significava consumo de massa,
um novo sistema de reprodução da força de
trabalho, uma nova política de controle e gerência
do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em
suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada,
modernista e populista.”
Harvey diz ainda que: “Ford acreditava que o novo tipo de
sociedade poderia ser construído simplesmente com a aplicação
adequada do poder corporativo. O propósito (...) só
em parte era obrigar o trabalhador a adquirir a disciplina necessária
à operação do sistema de linha de montagem
de alta produtividade. (o que Ford desejava) Era também
dar aos trabalhadores renda e tempo de lazer suficientes para
que consumissem os produtos produzidos em massa.” (Harvey,
1993: 121-122)
A acumulação flexível (termo
utilizado por David Harvey para o que outros autores chamaram
de capitalismo tardio) é marcada por um confronto direto
com a rigidez do fordismo: “...ela se apóia na flexibilidade
dos processos de trabalho, dos produtos e padrões de consumo.
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção
inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas
de inovação comercial, tecnológicas e organizacional”,
onde: “a atual tendência dos mercados de trabalho
é reduzir o número de trabalhadores ‘centrais’
e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra
facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam
ruins.
[...] A acumulação flexível foi acompanhada
na ponta do consumo, portanto, por uma atenção muito
maior às modas fugazes e pela mobilização
de todos os artifícios de indução de necessidades
e de transformação cultural que isso implica. A
estética relativamente estável do modernismo fordista
cedeu lugar a todo fermento instabilidade e qualidades fugidias
de uma estética pós-moderna que celebra a diferença,
a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação
de formas culturais.”(Harvey, 1997:135-162)
O conceito de “compressão do tempo-espaço”,
para Harvey, compreende os processos que alteram as “qualidades
objetivas do espaço e do tempo” de maneira tal que
modificam nossa forma de “representar o mundo para nós
mesmos”. Com isso, o autor chama atenção para
a “aceleração do ritmo de vida” associada
ao capitalismo e as possibilidades de deslocamento e rompimento
de barreiras espaciais de tal modo que “por vezes o mundo
parece encolher sobre nós. [...] À medida que o
espaço parece encolher numa ´aldeia global’
de telecomunicações e numa ‘espaçonave
terra’ de interdependências ecológicas e econômicas
e, que os horizontes temporais se reduzem a um ponto em que só
existe no presente (o mundo do esquizofrênico), temos de
aprender a lidar com um avassalador sentido de compressão
dos nossos mundos espacial e temporal.
[...] A experiência da compressão do tempo-espaco
é um desafio, um estímulo, uma tensão, (...)
capaz de provocar (...) uma diversidade de reações
sociais, culturais e políticas.” (Harvey, 1997:219-220)
Para
Harvey, de um modo geral, “o período de 1965 a 1973
tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo de conter
as contradições inerentes ao capitalismo”. Entre
essas contradições o autor cita “a rigidez dos
investimentos de capital fixo de larga escala e longo prazo em sistemas
de produção em massa” e diz que isso impedia
uma flexibilidade de planejamento em um “crescimento estável
em mercados de consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos
mercados, na alocação e nos contratos de trabalho”
(quanto a este último o autor menciona a “força
aparentemente invencível” das organizações
e do poder da classe trabalhadora).
Ele aponta uma política monetária, seguida de uma
onda inflacionária como a resposta “flexível”
à rigidez do sistema vigente. Na passagem do fordismo para
a acumulação flexível, “as economias
de escala buscadas na produção fordista de massa
foram substituídas por uma crescente capacidade de manufatura
de uma variedade de bens e preços baixos em pequenos lotes.
As economias de escopo derrotaram as economias de escala. [...]
A produção em pequenos lotes e a subcontratação
tiveram por certo a virtude de superar a rigidez do sistema fordista
e de atender a uma gama bem mais ampla de necessidades do mercado,
incluindo as rapidamente cambiáveis”; o que produziu:
“uma aceleração do ritmo da inovação
do produto, ao lado da exploração de nichos de mercado
altamente especializados e de pequena escala. Em condições
recessivas de aumento da competição, o impulso de
explorar essas possibilidades tornou-se fundamental para a sobrevivência.”
(Harvey, 1997:135-162)
Um outro fator apontado por Harvey, na passagem
do fordismo à acumulação flexível,
é a “dramática” redução
do tempo de giro pelo uso das novas tecnologias produtivas (automação,
robôs) e de novas formas organizacionais (como o gerenciamento
de estoques just-in-time, que corta dramaticamente a quantidade
de material necessária para manter a produção
fluindo). Aliada à aceleração do tempo de
giro, a redução do tempo de giro de consumo e da
vida útil de um produto. Harvey cita que: “a meia
vida de um produto fordista típico era de cinco a sete
anos, mas a acumulação flexível diminuiu
isso em mais da metade em certos setores (como o têxtil
e o do vestuário, enquanto outros - tais como a chamadas
indústrias de thoughtware (por exemplo videogames, e programas
de computador) - a meia vida está caindo para menos de
dezoito meses.”
Para o autor: “...embora as raízes dessa transição
sejam, evidentemente, profundas e complicadas, sua consistência
com uma transição do fordismo para a acumulação
flexível é razoavelmente clara. [...] Para começar,
o movimento mais flexível do capital acentua o novo, o
fugidio, o efêmero, o fugaz e o contingente da vida moderna,
em vez dos valores mais sólidos implantados na vigência
do fordismo. Na medida em que a ação coletiva se
tornou, em conseqüência disso, mais difícil
- tendo essa dificuldade constituído, com efeito, a meta
central do impulso de incremento do controle do trabalho -, o
individualismo exacerbado se encaixa no quadro geral como condição
necessária, embora não suficiente, na transição
do fordismo para a acumulação flexível.”
(Harvey, 1997:135-162)
No capítulo As coisas: a sociedade
do descartável, do livro O Choque do futuro,
Alvin Toffler apresenta uma nova sociedade e, ao narrar o episódio
sobre o lançamento de um novo modelo da boneca Barbie,
conclui que “a menina de hoje (década de 1970, data
da edição original), cidadã do mundo superindustrializado
de amanhã, estaria aprendendo uma lição fundamental
sobre a nova sociedade: que os relacionamentos do homem com as
coisas estão se tornando cada vez mais temporários.”
Toffler compara estas meninas, que “trocaram alegremente”
suas antigas Barbies por um desconto na compra de um novo modelo
(com a cintura móvel), com suas mães e avós,
representantes de uma sociedade baseada na “permanência”.
O autor afirma também que: “os antimaterialistas
tendem a minimizar a importância das ‘coisas’.
No entanto as coisas são altamente significativas, não
somente devido sua utilidade funcional, mas também por
causa do impacto psicológico. Desenvolvemos relacionamentos
com as coisas. As coisas afetam nosso censo de continuidade e
descontinuidade. Elas desempenham um papel na estrutura das situações
e o encurtamento de nossos relacionamentos com as coisas acelera
o ritmo da vida.” (Toffler, s.d.:53-70)
Alvin Toffler é o autor do celebrado
livro O choque do futuro, que teve impacto profundo em
nossos pensamentos sobre as mudanças na sociedade. Toffler
foi correspondente de imprensa em Washington antes de assumir
o cargo de redator na revista Fortune. Mais tarde lecionou
como Professor Visitante em Cornell University, e ministrou diversos
cursos na New School for Social Research. É autor de quatro
livros, entre eles A Terceira Onda e Previsões
e Premissas, além de inúmeros artigos para
revistas, jornais e recebeu cinco títulos honoris causa
em Letras, Direito e Ciências. Tem diversos trabalhos publicados
sobre revolução digital, revolução
nos meios de comunicação, e revolução
corporativa.
Seus primeiros trabalhos enfocaram a tecnologia e seu impacto.
Em seguida, se dedicou a examinar as reações e mudanças
na sociedade. Suas últimas pesquisas têm sido sobre
o poder crescente, no século XXI, da informatização
militar, armamento e proliferação da tecnologia
e do capitalismo.
Georg Simmel (Berlim, 1858 – 1918) escreveu
sobre temas variados como a sexualidade, o dinheiro e o câmbio,
o evento e crítica do realismo na modernidade e outros
fenômenos sociais a ele contemporâneos. Simmel se
tornou um autor renomado por seus retratos sociológicos
da consciência na modernidade, entre os quais A metropolis
e a vida mental.
Em A metropolis e a vida mental, Simmel oferece um esboço
analítico da interação entre consciências
individuais e a cidade moderna. Na cidade, os laços formais
entre indivíduos substituem os laços afetivos mais
tradicionais; com a ascensão da burocracia e da ciência,
a vida torna-se altamente diferenciada: ela não mais possui
um conteúdo fixo, mas é, antes, caracterizada por
formas abstratas, das quais o dinheiro é a mais importante.
A vida na cidade provoca uma disposição psicológica
fundamentalmente nova: a atitude blasée, resultado da libertação
do indivíduo do tempo da tradição e a imersão
no tempo da cidade, “transitório, fugitivo, contingente”,
na expressão do célebre escritor francês Baudelaire.
A atitude “blasée” torna-se “uma indiferença
às distinções”.
Em sua análise do dinheiro, Simmel o considera, como princípio
de equivalência, inteiramente abstrato, uma forma pura e,
portanto, passível de receber uma infinidade de conteúdos.
Fredric Jameson
A preocupação com a fragmentação e
instabilidade da linguagem e dos discursos leva diretamente, por
exemplo, a certa concepção da personalidade. Encapsulada,
essa concepção se concentra na esquizofrenia (não,
deve-se enfatizar, em seu sentido clínico estrito), em
vez da na alienação e na paranóia (ver o
esquema de Hassan). Jameson (1984b) explora esse tema com um efeito
bem revelador. Ele usa a descrição de Lacan da esquizofrenia
como desordem lingüística, como uma ruptura na cadeia
significativa de sentido que cria uma frase simples. Quando essa
cadeia se rompe, "temos esquizofrenia na forma de um agregado
de significantes distintos e não relacionados entre si".
Se a identidade pessoal é forjada por meio de "certa
unificação temporal do passado e do futuro com o
presente que tenho diante de mim", e se as frases seguem
a mesma trajetória, a incapacidade de unificar passado,
presente e futuro na frase assinala uma incapacidade semelhante
de "unificar o passado, o presente e o futuro da nossa própria
experiência biográfica ou vida psíquica".
Isso de fato se enquadra na preocupação pós-moderna
com o significante, e não com o significado, com a participação,
a performance e o happening, em vez de com um objeto de arte acabado
e autoritário, antes com as aparências superficiais
do que com as raízes (mais uma vez, ver o esquema de Hassan).
O efeito desse colapso da cadeia significativa é reduzir
a experiência a "uma série de presentes puros
e não relacionados no tempo".
Jean Baudrillard (1929, Reims; – )
Começando com uma reavaliação e crítica
da teoria econômica do objeto de Marx no referente ao valor
de uso, Baudrillard desenvolve uma teoria semiótica em
que enfatiza o “valor de signo” dos objetos. Um objeto
comporta um valor de uso, um valor de troca e um valor simbólico
que é irredutível tanto ao valor de uso quanto ao
valor de troca. Alem disso, embora haja um aspecto utilitário
em muitos objetos, o que é essencial para eles é
sua capacidade de significar um status.
Para Baudrillard, o estilo de vida e os valores – não
a necessidade econômica – são a base da vida
social. Ao longo de seus escritos, ele usa o termo “código”
significando desde o sistema de signos de seus escritos iniciais
até o código do DNA, o código digital. A
era do código supera a era do signo. Em uma era em que
o objeto natural não é mais passível de credibilidade,
a simulação e os modelos são os padrões
da reprodução pura, o que Baudrillard denomina “reversibilidade”.
A reversibilidade tem como conseqüência o desaparecimento
de todas as finalidades: nada está for a do sistema, que
se torna uma tautologia.
Com respeito à simulação, Baudrillard define
três tipos: a do falsificado dominante na era clássica
do Renascimento, a da produção na era industrial
e, por último, a simulação da era atual,
governada pelo código.
Karl Marx (Prússia-1818, Londres-1883).
Foi filósofo, historiador, economista e jornalista. Deixou
numerosos escritos como "Manuscritos econômicos
e filosóficos", "O 18 Brumário
de Luís Napoleão", "Contribuição
à crítica da economia política",
"O Capital", e, em conjunto com Engels, "A
Ideologia Alemã", "Manifesto Comunista",
entre outros. Segundo Engels, as duas grandes descobertas cientificas
de Marx foram: a concepção do materialismo histórico
e a teoria da mais-valia. Ativista político fundou e dirigiu
a Primeira Internacional Operária, de 1867 a 1873. Em 1843,
exilou se em Paris e posteriormente em Bruxelas e em Londres,
onde morreu em 1883.
Marx utilizou o método dialético para explicar as
mudanças importantes ocorridas na história da humanidade
através dos tempos. Ao estudar determinado fato histórico,
ele procurava seus elementos contraditórios, buscando encontrar
aquele elemento responsável pela sua transformação
num novo fato, dando continuidade ao processo histórico.
Desenvolveu uma concepção materialista da História,
afirmando que o modo pelo qual a produção material
de uma sociedade é realizada constitui o fator determinante
da organização política e das representações
intelectuais de uma época.
Karl Marx considerou duas categorias em sua explicação
sobre o crescimento do capitalismo: valor de uso e valor de troca.
O valor de uso de um objeto seria sua utilidade em relação
à satisfação de determinadas necessidades;
o valor de troca, por outro lado, estaria relacionado ao valor
de mercado de um produto ou objeto medido por seu preço.
Ao objeto do valor de troca Marx chamou de forma de mercadoria
do objeto.
A pós-modernidade marca um desengajamento fundamental do
tipo de pensamento totalitário que o marxismo representa.
Simulacro – s.m. (sec. XIV) 1. ant. representação
de pessoa ou divindidade pagã;ídolo; efígie.
2. representação, imitação 3. falso
aspecto, aparência enganosa 4. cópia malfeita ou
grosseira, arremedo 5. semelhança, parecença 6.
suposto reaparecimento de pessoa morta; espectro, sombra, fantasma.
(Houaiss)
Simulacro é um termo usado para designar a simulação
que não tem referente. Por exemplo, um objeto criado em
programa digital que não exista concretamente no mundo
material.
Os objetos, reproduzindo o real, correm o risco de o exceder.
Parece haver cada vez menos realidade e mais objetos produzidos
artificialmente como numa Disneylândia sem fim, que, é
claro, fazem parte também dessa realidade, tornando-se,
assim, metarreais. No futuro, quem sabe, restará uma lembrança
do que houve só através de reproduções
devido à "onipotência do simulacro".
Jean Baudrillard, Simulacro e simulação,
Lisboa, Relógio d’Água, 1991. p. 11
Daniel Bell (New York, 1919; – )
Bell descreve o pós-modernismo como a exaustão do
modernismo através da institucionalização
dos impulsos criativos e rebeldes por aquilo que chama de “a
massa cultural”, definida por ele como não os criadores
da cultura, mas os seus transmissores: os que se ocupam da educação
superior, da atividade editorial, das revistas, da mídia
eletrônica, dos teatros e dos museus, que processam e influenciam
a recepção de produtos culturais sérios.
Ela é em si mesma ampla o bastante para ser um mercado
para a cultura, para comprar livros, quadros e gravações
de música séria. Ela também é o grupo
que, como escritores, editores de revistas, cineastas, músicos
e assim por diante, produz os materiais populares para o público
mais amplo da cultura de massas.
Nesse contexto, a degeneração da autoridade intelectual
sobre o gosto cultural nos anos 60 e a sua substituição
pela pop arte, pela cultura pop, pela moda efêmera e pelo
gosto da massa são vistas como um sinal do hedonismo inconsciente
do consumismo capitalista.

David Harvey no capítulo 18, O tempo e o espaço
no cinema pós-moderno, observa que no filme Blade
Runner, de Ridley Scott, os “replicantes” não
são meras imitações, mas reproduções
totalmente autênticas, indistingüíveis em quase
todos os aspectos dos seres humanos. São antes simulacros
do que robôs. Forem projetados como a forma última
de força de trabalho de curto prazo, de alta capacidade
produtiva e grande flexibilidade. Para Harvey, são um exemplo
perfeito de um trabalhador que possua todas as qualidades necessárias
à adaptação a condições de
acumulação flexível.
(Jacques Derrida (Argélia, 1930 –
) escreveu Gramatologia, 1973 e A escritura e a diferença,
1976, entre outros livros.
O "desconstrucionismo" (movimento iniciado pela leitura
de Martin Heidegger por Derrida no final dos anos 60) surge aqui
como um poderoso estímulo para os modos de pensamento pós-modernos.
O desconstrucionismo é menos uma posição
filosófica do que um modo de pensar sobre textos e de "ler"
textos. Escritores que criam textos ou usam palavras o fazem com
base em todos os outros textos e palavras com que depararam, e
os leitores lidam com eles do mesmo jeito. A vida cultural é,
pois, vista como uma série de textos em intersecção
com outros textos, produzindo mais textos (incluindo o do crítico
literário, que visa produzir outra obra literária
em que os textos sob consideração entram em intersecção
livre com outros textos que possam ter afetado o seu pensamento).
Esse entrelaçamento intertextual tem vida própria;
o que quer que escrevamos transmite sentidos que não estavam
ou possivelmente não podiam estar na nossa intenção,
e as nossas palavras não podem transmitir o que queremos
dizer. É vão tentar dominar um texto, porque o perpétuo
entretecer de textos e sentidos está fora do nosso controle;
a linguagem opera através de nós. Reconhecendo isso,
o impulso desconstrucionista é procurar, dentro de um texto
por outro, dissolver um texto em outro ou embutir um texto em
outro.
Por meio da “desconstrução” Derrida
iniciou uma investigação sobre a natureza da tradição
metafísica ocidental e sua base na lei de identidade. A
tendência na obra de Derrida é revelar o terreno
filosófico de forma que ele possa continuar a ser o lugar
da invenção.
Derrida cunhou um outro termo, différence, à
luz da teoria saussuriana e estruturalista da linguagem, que designa
aquilo que permanece for a do escopo do pensamento metafísico
do Ocidente, porque é sua própria condição
de possibilidade.
Jean-François Lyotard (Versailles, 1924
– )
Embora um ativista politico de convicção marxista
nos anos 50 e 60, Lyotard tornou-se o filósofo não-marxista
da pós-modernidade nos anos 80.
O pensamento de Lyotard em Le différend é
um antidoto valioso para o delírio totalitário de
reduzir tudo a um único gênero, abafando, portanto,
o diferente. Abafar o diferente é abafar novas formas de
pensamento e ação.
Em A condição pós-moderna, Lyotard
examina conhecimento, ciência e tecnologia em sociedades
capitalistas avançadas, em que o próprio conceito
de sociedade como uma forma de unicidade é considerado
em processo de perda de credibilidade. Lyotard desenvolve uma
filosofia do diferente, onde a prova é considerada universalmente
válida porque a realidade é considerada um universo
(uma totalidade) que pode ser representado, ou expresso, em forma
simbólica.
Lyotard fala, em Le différend de “regimes
de frases” e “gêneros de discurso”. Como
jogos de linguagem, regimes de frases têm suas regras de
formação, e cada frase representa um universo.

No capítulo 18, O tempo e o espaço no cinema
pós-moderno, David Harvey localiza em Blade Runner,
filme de Ridley Scott, esta busca pela construção
de um passado nas ações da personagem Rachel, uma
“replicante” recém-criada e mais sofisticada
que as outras. Harvey comenta que “...procurar replicantes
depende de certa técnica de interrogatório, que
se baseia no fato de eles não terem uma história
real; afinal, eles foram criados geneticamente como adultos crescidos,
faltando-lhes a experiência de socialização
humana”. Por esta razão, Rachel tenta convencer o
investigador e exterminador de “replicantes” (Deckard)
de sua autenticidade como pessoa produzindo a fotografia de uma
mãe e uma garotinha que diz ser ela. Harvey chama atenção
para o fato das fotografias vistas, neste caso, como provas de
uma história real, “pouco importando qual possa ter
sido a verdade dessa história. A imagem é, em resumo,
prova da realidade, e as imagens podem ser criadas e manipuladas”.
Harvey comenta, ainda, que Rachel “vendo as fotografias
familiares de Deckard tenta adequar-se a elas. Ela passa a usar
o cabelo no estilo das fotografias, toca piano como se estivesse
num quadro e age como se soubesse o que significa um lar”.
(Harvey, 1997: 280)
Walter Benjamin (Berlim, 1892 – 1940)
Em A obra de arte na era da reprodução mecânica,
Benjamin faz uma análise da mudança fundamental
ocorrida na qualidade estética da obra de arte na era do
filme, da fotografia e do acesso em massa a eles. Benjamin mostra
que assim que a aura de autenticidade da obra de arte fenece por
sua característica de ser reproduzível, a percepção
dos sentidos altera-se juntamente com todo o modo de existência
da humanidade. A técnica da reprodução aproxima
os objetos de arte de um público de massa. Na verdade,
é o processo de reprodução como tal que é
revolucionário: o fato, por exemplo, de que o negativo
fotográfico permita uma verdadeira multiplicação
de “originais”. Para Benjamin, a história está
embutida na modernidade, como a coisa “original”,
produzida num momento do tempo, contém em si a possibilidade
de sua reprodução.

As elites dirigentes locais podem, por exemplo,
implementar estratégias de controle da mão-de-obra
local, de melhoria de habilidades, de fornecimento de infra-estrutura,
de política fiscal, de regulamentação estatal
etc, a fim de atrair o desenvolvimento para o seu espaço
particular. Assim, as qualidades do lugar passam a ser enfatizadas
em meio às crescentes abstrações do espaço.
A produção ativa de lugares dotados de qualidades
especiais se torna um importante trunfo na competição
espacial entre localidades, cidades, regiões e nações.
Formas corporativas de governo podem florescer nesses espaços,
assumindo elas mesmas papéis desenvolvimentistas na produção
de climas favoráveis aos negócios e outras qualidades
especiais.
Considerado o mais importante economista da
primeira metade do século XX, John Maynard Keynes (1883-1946),
nasceu destinado a influenciar tanto na economia de seu país,
a Grã-Bretanha, como nos Estados Unidos. O último
de seus escritos sobre a teoria econômica e também
o mais importante surgiu em 1936, titulado "The General
Theory of Employment, Interest and Money" (Teoria Geral
do Emprego, do Juro e do Dinheiro). Keynes combinou suas próprias
teorias e os desenvolvimentos anteriores em uma análise
que ocasionou transformações na Economia aceita
em grau que raiou pela revolução.
O conjunto de suas idéias propunham a intervenção
estatal na vida econômica com o objetivo de conduzir a um
regime de pleno emprego. As teorias de John Maynard Keynes tiveram
enorme influência na renovação das teorias
clássicas e na reformulação da política
de livre mercado. Acreditava que a economia seguiria o caminho
do pleno emprego, sendo o desemprego uma situação
temporária que desapareceria graças às forças
do mercado. O objetivo do keynesianismo era manter o crescimento
da demanda em paridade com o aumento da capacidade produtiva da
economia, de forma suficiente para garantir o pleno emprego, mas
sem excesso, pois isto provocaria um aumento da inflação.
Na década de 1970 o keynesianismo sofreu severas críticas
por parte de uma nova doutrina econômica: o monetarismo.
Em quase todos os países industrializados o pleno emprego
e o nível de vida crescente alcançados nos 25 anos
posteriores à II Guerra Mundial foram seguidos pela inflação.
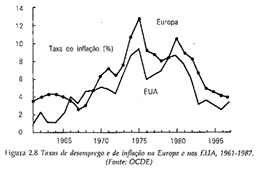
A exposição Les Immateriaux,
organizada em 1985, pelo Centre Georges Pompidou, em cuja concepção
participaram uma série de pensadores defensores do surgimento
de uma época pós-moderna, é bastante ilustrativa
da relação entre os conceitos de pós-modernidade
e as novas tecnologias de imagem. Uma definição
precisa do que será a modernidade ou do que é, efetivamente,
essa pós-modernidade é um trabalho que vai muito
para além do nosso presente estudo. O que aqui surge como
relevante é que a pós-modernidade, tal como é
entendida pela maior parte dos autores, se caracteriza pela apoteose
do visual na nossa cultura. A proliferação de imagens
que ultrapassam as dicotomias do pensamento moderno, vem pôr
em causa todo um sistema de representação e de relação
com o mundo. Caem as oposições entre espaço
e tempo e o que resulta é um espaço ‘esquizofrênico’
de superfícies em movimento acelerado.
Les Immaterieaux sugere a emergência da ‘era
do simulacro’, profetizada na exposição pela
própria voz de Baudrillard. Indicia esse domínio
fantasmagórico de imagens sem referentes, a ‘precedência
do simulacro’ que Baudrillard identifica com a atual ordem
cultural. A fé modernista de que a visualidade e a racionalidade
podiam ser conciliadas foi decisivamente rejeitada. O que é
recepcionado pelos sentidos e o que faz sentido é desligado
e separado.
Paul Virilio nasceu em Paris em 1932, de pai
italiano refugiado político e mãe bretã.
Arquiteto, urbanista, filósofo, ex-diretor da Escola de
Arquitetura de Paris, especialista em questões estratégicas,
tem se destacado como um dos principais ensaístas sobre
os meios de comunicação, a "guerra da informação"
e o mundo cibernético. Nos últimos anos, Paul Virilio
vem se notabilizando como uma voz cética, quase uma nova
dissidência, frente a uma sociedade desenfreadamente informatizada
e onde o cidadão é vítima de um constante
bombardeio (des)informacional.
Os queijos franceses, por exemplo, virtualmente
impossíveis de encontrar nos anos 70, exceto em algumas
lojas especiais nas grandes cidades, hoje são vendidos
à vontade em todos os Estados Unidos. E, se se considerar
isso um exemplo um tanto elitista, o caso do consumo de cerveja
sugere que a internacionalização de um produto —
que a teoria tradicional da localização sempre ensinou
que deveria ser altamente orientada pelo mercado — agora
está completa. Baltimore era essencialmente uma cidade
de uma única cerveja (produzida no local) em 1970; então,
primeiro as cervejas regionais — de lugares como Milwaukee
e Denver — e depois canadenses, mexicanas, européias,
australianas, chinesas, polonesas etc. se tornaram mais baratas.
Comidas antes exóticas se tornaram comuns, enquanto iguarias
locais populares (no caso de Baltimore, caranguejos azuis e ostras),
antes relativamente baratas, tiveram saltos nos preços
ao se integrarem ao comércio a longa distância.

Para Charles Jencks (Baltimore - 1939), “qualquer
cidadão urbano de classe média, morador de qualquer
cidade grande, de Teerã a Tóquio, está fadado
a ter um "banco de imagens" bem sortido, na verdade,
saturado, que é continuamente cheio por viagens e revistas.
Seu musée imaginaire pode espelhar a mixórdia
dos produtores mas é, mesmo assim, natural para o seu modo
de vida. Barrando algum tipo de redução totalitária
na heterogeneidade da produção e do consumo, parece
desejável que os arquitetos aprendam a usar essa heterogeneidade
inevitável de linguagens”. O autor diz, ainda, que
é inevitável que isso tudo se agregue, sendo tanto
excitante quanto saudável. “Porque nos restringirmos
ao presente, ao local, se podemos viver em épocas e culturas
distintas? O ecletismo é a evolução natural
de uma cultura que tem escolha”. além disso, é
bastante divertido. Por que, se é possível viver
em épocas e culturas diferentes, restringir-se ao presente,
ao local?” (Harvey, 1997: 86 e 271)
Autor de diversos livros e escritos acerca da arquitetura contemporânea
e o pensamento pós-moderno, entre eles The Language
of Post-Modern Architecture. Sua arquitetura, paisagismo
e design de mobiliário exploram, em diferentes mídias,
as idéias desenvolvidas em sua obra teórica. Critica
a arquitetura Moderna e define seus sucessores – o neo,
o tardio e Pós-Moderno. Divide seu tempo ministrando palestras
em mais de em mais de 40 universidades e museus no mundo todo.
Atua como arquiteto nos Estados Unidos e no Reino Unido e alguns
de seus desenhos estão nas coleções de museus
no Japão e no Victoria & Albert em Londres.
Seu trabalho recente, baseado em teorias complexas, inclui design
de fractais em projetos arquitetônicos, mobiliário
e paisagismo.
Em seu livro, Postmodernist Fiction,
McHale observa uma ficção pós-modernista
que emerge da ficção modernista, “consequentemente
histórica”. Ela emerge do que é “dominante”
no modernismo – que é a preocupação
com a terreno do conhecimento, ou epistemologia. O “dominante”
no pós-modernismo retorna de um interesse na epistemologia,
mas traz uma preocupação com o terreno do ser, ou
ontologia. Com isso, segundo Harvey, McHale quer dizer uma passagem
do tipo de perspectivismo que permitia ao modernista uma melhor
apreensão do sentido de uma realiidade complexa, mas mesmo
assim singular à ênfase em questões sobre
como realidades radicalmente diferentes podem coexistir, colidir
e se interpenetrar. Em conseqüência, a fronteira entre
ficção e ficção científica
sofreu uma real dissolução, enquanto as personagens
pós-modernas com freqüência parecem confusas
acerca do mundo em que estão e de como deveriam agir com
relação a ele”. Harvey identifica, ainda,
“...a p´ropria redução do problema da
perspectiva à autobiografia, segundo uma personagem de
Borges, é entrar no labirinto: ‘Quem era eu? O eu
de hoje estupefato; o de ontem, esquecido; o de amanhã
imprevisível?’”. (Harvey, 1997: 46)
Brian McHale é Conferencista Senior em Poetics at Tel-Aviv
University.
Para Michel Foucault (Poitiers, 1926–1984),
as heterotopias seriam
"[…] lugares efetivos, lugares que são desenhados
na instituição mesmo da sociedade e que são
como contra-lugares, espécies de utopias efetivamente realizadas,
nas quais os lugares reais, todos os outros lugares reais que
se pode encontrar no interior de uma cultura são, ao mesmo
tempo, representados, contestados e invertidos, espécies
de lugares fora de todos os lugares, ainda que possam ser localizados"(
Foucault, Dits et écrits, IV, 1980-1988:755)
A heterotopia é o outro possível na ordem das coisas,
como conceitua Foucault na Introdução de As
palavras e as coisas: uma arqueologia do saber ao especular
sobre qual seria o estatuto epistemologico da ordem.
No capítulo O tempo e o espaço
do projeto Iluminismo, Harvey afirma que a Renascença
“tesemunhou uma reconstrução radical de visões
do espaço e do tempo no mundo ocidental. De uma perspectiva
etnocêntrica, as viagens de descoberta produziram um assombroso
fluxo de conhecimento acerca de um mundo mais amplo que teve der
ser, de alguma maneira, absorvido e representado; elas indicavam
um globo que era finito e potencialmente apreensível. O
saber geográfico se tornou uma mercadoria valiosa numa
sociedade que assumia uma consciência cada vez maior do
lucro. A acumulação de riqueza, de poder e de capital
passou a ter um vínculo com o conhecimento personalizado
do espaço e do domínio individual dele. Do mesmo
modo, todos os lugares ficaram vulneráveis à influência
direta do mundo mais amplo graças ao comércio, à
competição intraterritorial, à ação
militar, ao influxo de novas mercadorias, ao ouro e à prata
etc. (Harvey, 1997: 221)
|